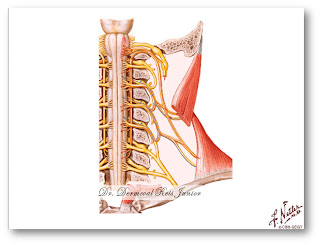Angiogênese é o fenômeno em que ocorre a formação de vasos sanguíneos nos tecidos. Em tecidos lesados, a formação de vasos é chamada de neoangiogênese. Este fenômeno tem como base, estruturas capilares pré-existentes, tanto para a manutenção da estrutura como para o reparo do tecido em lesões. Este processo, que por sinal é orquestrado, depende da ação de citocinas – TNF-α e E-selectina solúvel - e fatores de crescimento – EGF, VEGF e FGF - que permitem a evolução de capilares em proliferação e migração, e por fim, sua reposição nos tecidos com a diferenciação em células do endotélio e seu acoplamento espacial nos tubos vasculares pré-existentes. Além disso, esses fatores de crescimento são os reguladores da angiogênese, sendo o VEGF o mais potente regulador dos processos angiogênicos de ordem patológica ou fisiológica. O VEGF é o fator de crescimento derivado do endotélio vascular e possui dois receptores tirosina kinase (RTK): VEGFR-1 e VEGFR-2 e não tirosina kinase (família Src) de células endoteliais. Sua ação é acionar a via Ras-MAPK para iniciar a via intracelular que acionará fatores transcricionais, permitindo a ampliação dos vasos nos tecidos.
Tem sido mostrado no desenvolvimento embrionário RTKs – Flk-1/KDR e Flt-1 – em que o VEGF se liga promovendo o processo de angiogênese. A tensão de O2 tem sido considerada como importante mediador na regulação da expressão gênica do VEGF. Também, a sobrevida e melhora função da célula endotelial têm sido atribuídas ao VEGF. Os mecanismos propostos estão por ser elucidados, mas a tensão de O2 desempenha significante papel na regulação da expressão de VEGF. Baixa pressão parcial de O2 intensifica a expressão do RNAm do VEGF. Não só o VEGF, mas a hipóxia parece aumentar a expressão do RNAm também da eritropoietina (EPO), um hormônio que induz aumento da síntese de eritrócitos e consequentemente do aumento da oxigenação tecidual. A razão entre eNOS/NO é um importante regulador das ações do VEGF. Parece que este componente implica em ações do VEGF que estão envolvidas nas alterações hemodinâmicas pertinentes à permeabilidade microvascular. Vários são os estímulos que indicam as ações enzimáticas da eNOS, como shear stress, citocinas inflamatórias, hiperglicemia e estes tipos de injúria podem modular a expressão e atividade da eNOS. Uma enzima que está se destacando é a fosfolipase D (PLD) como enzima chave, juntamente com a eNOS em ativar o VEGF. Ambas são dependentes de PKC e de ativação da MAPK.
Referências
FOLKMAN, J. Angiogenesis in câncer, vascular rheumatoid, and other diseases. Nat Med. 1:27-31, 1995.
ZIMRIN, A. B.; MACIAG, T. Progress toward a unifying hypothesis for angiogenesis. J Clin Invest. 97:1359, 1996.
MONTEIRO, H. P.; CURCIO, M. F.; OLIVEIRA, C. J. R. Vias de transdução de sinais em células endoteliais: implicações na angiogênese. In: da LUZ, P. L.; LAURINDO, F.R.M.; CHAGAS, A. C. P. Endotélio e doenças cardiovasculares. Atheneu, São Paulo, 83 – 95, 2003.
BRKOVIC, A; SIROIS, M. A. Vascular Permeability Induced by VEGF Family Members in Vivo: Role of Endogenous PAF and NO Synthesis. J Cell Biochem 100: 727–737, 2007.